On History
No primeiro de três excertos de The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains, Thomas Laqueur explora a necrobotânica do teixo, “a árvore dos mortos” – encontrada nos cemitérios do Reino Unido, França, e Espanha.
 p>William Turner, Villa do Papa em Twickenham, 1808.
p>William Turner, Villa do Papa em Twickenham, 1808. Um cemitério era adjacente a uma igreja; ambos tinham os ossos dos mortos. Os três – o edifício, o chão, os mortos – foram unidos por uma história comum que os tornou parte do que no século XVIII era um dado adquirido; se alguma vez existiu uma paisagem orgânica, era o adro da igreja.
O teixo europeu de longa duração – Taxus baccata, a árvore dos mortos, a árvore das sementes venenosas – testemunha a antiguidade do adro e sombras dos seus “olmos rugosos”, e os montes e sulcos dos seus túmulos: O teixo da lenda é antigo e reivindica uma presença imemorial. Estamos a falar aqui de duas ou três dúzias de gigantes exemplares, alguns com uma circunferência de dez metros, que se mantiveram entre 1.300 e 3.000 anos, mas também de muitas árvores mais modestas e historicamente documentadas que viveram, e foram memorializadas, durante séculos. Pelo menos 250 teixos são hoje tão velhos ou mais velhos do que os pátios da igreja em que se encontram. Alguns estavam lá quando foram construídas as primeiras igrejas saxónicas e, na verdade, as primeiras igrejas cristãs britânicas; um foral do século VII de Peronne na Picardia fala da preservação do teixo no local de uma nova igreja.
Apenas quão antiga uma determinada árvore pode ser é, e foi, uma questão de controvérsia. As estimativas dependiam de ter duas ou mais medidas de circunferência ao longo de um longo período de tempo e depois aplicar uma fórmula que projectasse a taxa de crescimento no tempo. Estas fórmulas eram, por sua vez, derivadas de outras medições em série – tão numerosas em tantos anos – complementadas por medições da circunferência das árvores cuja idade era conhecida a partir de provas escritas. Na verdade, a datação precisa é provavelmente impossível, e todos a reconheceram. Há demasiadas variáveis que determinam a taxa de crescimento de uma árvore para se obter uma relação fiável para as mudanças de circunferência por década. Mas ninguém questiona que os teixos vivem durante milhares de anos: “a maioria das árvores parecem mais velhas do que são”, diz o dendrologista Alan Mitchell, “excepto os teixos que são ainda mais velhos do que parecem”. Têm sido uma parte íntima do adro da igreja durante algum tempo. São árvores do passado profundo; a sua história garante a antiguidade da paisagem eclesiástica.
O antiquário Daniel Rock do século XIX especula que o teixo no cemitério de Aldworth, Berkshire, pode muito bem ter sido plantado pelos saxões. John Evelyn, o diarista e escritor sobre silvicultura do século XVII, mediu essa árvore; Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841), o famoso botânico suíço, mediu-a novamente um século mais tarde e utilizou a diferença para calcular as relações idade/circunferência; o próprio Rochedo mediu-a em 1841 e notou que tinha crescido um quintal com uma circunferência desde que foi notada em Beauties de Inglaterra (1760). Os teixos de outros teixos do antigo pátio da igreja têm as suas próprias histórias bem documentadas. Estas são as celebridades das espécies que dão voz à antiguidade do cemitério e aos seus mortos. Milhares de teixos comuns partilham a aura da espécie.
É “por baixo da sombra do teixo” que “agita a relva em muitos montes de mofo”, como diz Thomas Gray, “Elegy Written in a Country Churchyard”. Taxus baccata lança quase invariavelmente a sua sombra onde estão os mortos, nos lados sul e oeste da igreja. Tal como os corpos que vigia, é raramente encontrada no lado norte, e depois apenas em circunstâncias excepcionais. Alguns acreditam, sugeriu Robert Turner, o estranho, erudito e prodigioso tradutor do século XVII de muitos textos místicos e medico-químicos, que isto se deve ao facto de os ramos de teixos “desenharem e absorverem” os “vapores grosseiros e oleaginosos exalados dos túmulos pelo Sol poente”. Também poderiam impedir o aparecimento de fantasmas ou aparições. Os gases não absorvidos produziam os ignes fatui, o “fogo tolo” como o que os viajantes viam sobre pântanos e pântanos, e estes, no contexto dos cemitérios, poderiam ser confundidos com cadáveres a andar. Os monges supersticiosos, continua ele, acreditavam que o teixo poderia afastar os demónios. As suas raízes, pensava ele, eram venenosas porque “correrão e sugarão alimento” dos mortos, cuja carne é “o veneno mais importante que poderia ser”
Mas as pretensões fantasiosas de Turner sobre a adaptação ecológica do teixo são um pouco post hoc. A questão mais básica é porque é que o teixo estava tão intimamente associado com os mortos em primeiro lugar. E, tal como todas as perguntas que procuram começos míticos, é uma pergunta sem resposta. Ou melhor, tem demasiadas respostas. O teixo era sagrado para Hecate, a deusa grega associada à bruxaria, morte, e necromancia. Dizia-se que purificava os mortos ao entrarem no Hades; o poeta Statius do século I, muito citado pelos folcloristas do século XIX, diz que o herói oráculo Amphiaraus, atingido pelo relâmpago de Zeus, foi arrancado tão rapidamente da vida que “ainda não o tinha encontrado e purificado com ramo de teixo, nem tinha Prosérpina marcado no poste escuro da porta como admitido na companhia dos mortos”. Os druidas associaram a árvore a rituais de morte. De facto, foi a longa história pagã das árvores que levou os líderes da Contra-Reforma Católica a proibir completamente a sua plantação e motivou um bispo de Rennes, no início do século XVII, a tentar, sem sucesso face à oposição popular, proibir o teixo em particular. O clero inglês da Pós-Reforma não fez tais esforços. Os poetas dos séculos XVI e XVII dizem-nos que o teixo cobria sepulturas e corpos ungidos. O tolo Feste em Twelfth Night canta o seu “manto de branco, colado todo com teixo”. Tudo isto era comum nas histórias antiquarianas. E assim era a associação do teixo com a história da Paixão de Cristo – com a Quarta-feira de Cinzas e o Domingo de Ramos. Poucas árvores estavam tão enraizadas no tempo profundo dos mortos.

John Burgess, Yews in a Country Churchyard.
No início do século XVIII, apareceu na Europa um rival desbaratado por uma longa história: o salgueiro chorão. Chegou a Inglaterra vindo da China via Síria porque um comerciante de Alepo chamado Thomas Vernon deu um a Peter Collinson, o intermediário mais importante no intercâmbio global de plantas. Ele, por sua vez, deu o espécime a Alexander Pope para os seus jardins em Twickenham algures no início dos anos 1720. Há variantes para esta história: Vernon era o senhorio do Papa e por isso pode ter-lho dado directamente; pode ter aparecido em Inglaterra um pouco mais cedo. Mas o salgueiro chorão era inegavelmente novo e estrangeiro no século XVIII, e os primeiros como os do Papa apreciaram a atenção dada à nova árvore na cidade. Salix Babylonica Linnaeus chamou-a, pensando erroneamente que era a árvore da lamentação no Salmo 137: “Junto aos rios da Babilónia, lá nos sentamos, sim, chorámos, quando nos lembrámos de Sião. / penduramos as nossas harpas nos salgueiros no meio deles”. O seu erro pode ser perdoado. A taxonomia dos salgueiros é, como nos diz o principal perito, “desconcertante”. A verdadeira Salix babylonica é frágil em climas frios e pode agora estar extinta, pelo que o nosso salgueiro chorão moderno é uma das suas cultivares, Salix × sepulcralis, produzida ao cruzá-la com o salgueiro branco europeu, Salix alba.
O salgueiro chora e chora, talvez por causa das suas folhas que caem ou porque foi erradamente chamada a árvore das lamentações dos antigos hebreus. Mas seja qual for o seu nome e seja qual for a sua genealogia precisa, é o oposto hortícola do Taxus baccata: de raiz rasa, de curta duração, e sem bagagem histórica até Alexander Pope a tornar famosa. A sua villa foi demolida em 1808, nem um século após a chegada do salgueiro chorão, porque o novo proprietário estava cansado de turistas. O pintor J. M. W. Turner pintou as suas ruínas e viu a famosa árvore, agora um tronco moribundo, e escreveu sobre ela:
p>A salgueiro do Papa inclinando-se para a terra esqueceu-se
Guardar uma frágil descendência pelos meus cuidados de fomento
Amaldiçoado pela vida que caiu sobre parêntesis
No Banco solitário para marcar o local com orgulho.
p> Dezenas de milhares de scions foram enviados de Twickenham antes do triste fim da árvore do Papa.
Imagens de Salix babylonica ou por haps Salix × sepulcralis, o salgueiro funerário, decorou os novos anúncios funerários comerciais e memorabilia de luto do décimo oitavo e décimo nono séculos; sombreou o túmulo de Rousseau em Ermenonville. Pensava John Claudius Loudon, o horticultor mais culto do século XIX, era a expressão natural do teixo, a melancolia do salgueiro chorão. Os seus ramos inclinados faziam dela um sinal natural de tristeza. Dentro de um século, o estrangeiro sem história tornou-se a árvore icónica dos cemitérios parecidos com o parque do século XIX. Era a árvore não dos mortos imemoriais mas do luto, uma árvore não para as idades mas para as três gerações pelas quais os mortos podem esperar ser recordados.
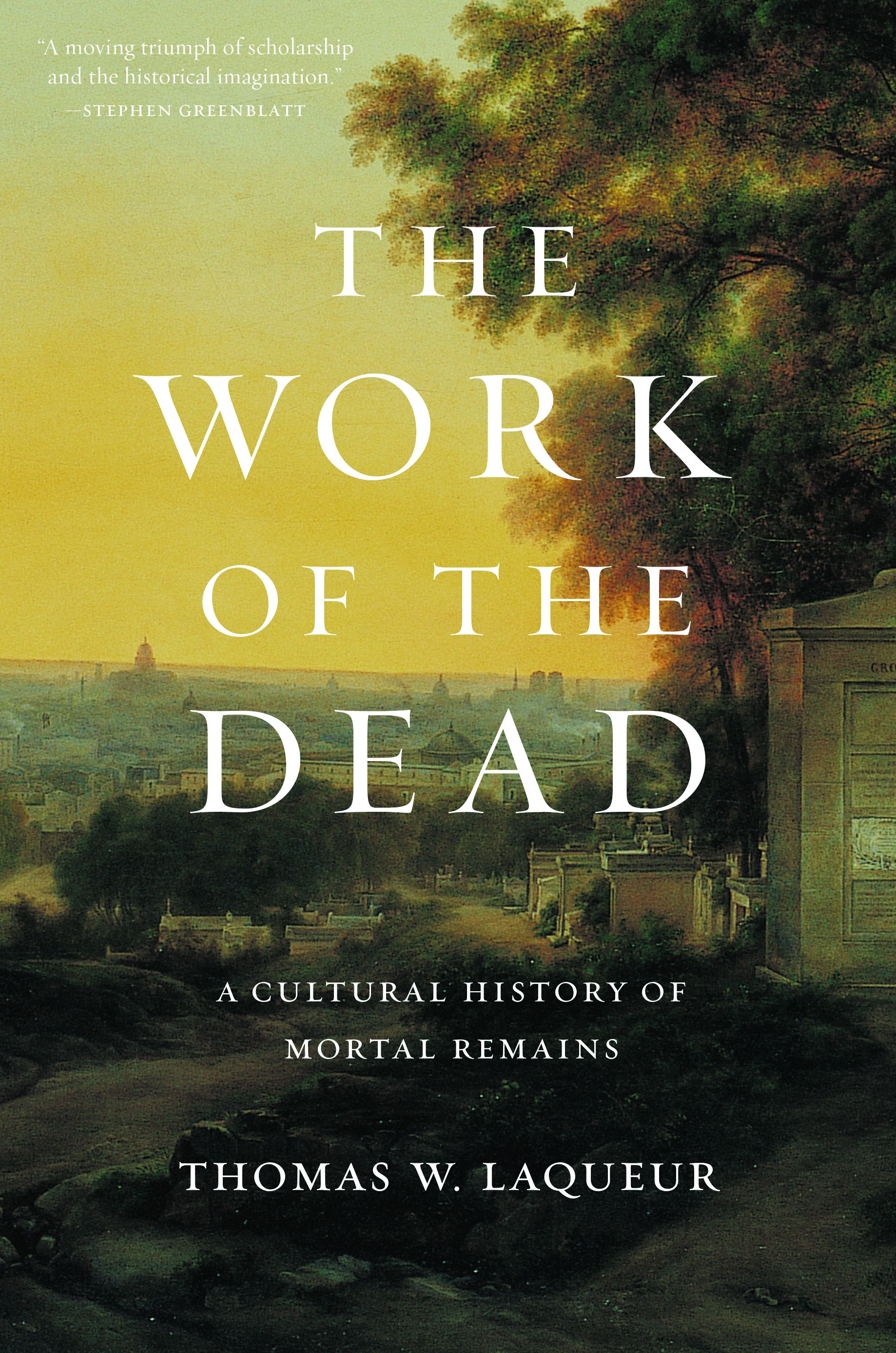 Thomas W. Laqueur é a Professora de História Helen Fawcett na Universidade da Califórnia, Berkeley. Os seus livros incluem “Making Sex”: Corpo e Género desde os Gregos até Freud e Sexo Solitário: A Cultural History of Masturbation (História Cultural da Masturbação). É um colaborador regular da London Review of Books.
Thomas W. Laqueur é a Professora de História Helen Fawcett na Universidade da Califórnia, Berkeley. Os seus livros incluem “Making Sex”: Corpo e Género desde os Gregos até Freud e Sexo Solitário: A Cultural History of Masturbation (História Cultural da Masturbação). É um colaborador regular da London Review of Books.